Cheguei a Nairóbi de ônibus pela fronteira terrestre com a Tanzânia. Consegui fazer o visto na hora pagando US$ 50 no guichê. Não sabia o que faria nos próximos dias ou semanas – tinha vontade de voluntariar e também havia a opção de conhecer Mombaça, no litoral do Quênia. Ao mesmo tempo, sentia que queria ir logo para a Etiópia – é choque cultural que você quer, né maninha?


Uma vez na casa de Cecília, minha host no Couchsurfing, conheci Amin e Kaman. Ele iraniano e ela de Hong Kong, estavam mochilando há sete meses por motivos de lua de mel – mas a essa altura não tinham como voltar a nenhum de seus países por conta da pandemia. Foram dias divertidos. Juntos descobrimos nosso restaurante favorito, o Moody’s, onde acabamos voltando outras três vezes na semana – me apaixonei pelo Pilau, prato típico do Oriente Médio que consiste em um arroz frito com um mix de cravos, canela, cardamomo, pimenta preta e cominho. Visitamos o Kenyatta building, cujo rooftop dá uma visão 360º da cidade, e pegamos um ônibus-balada à noite.



Aliás, não há outro lugar no mundo em que você encontre ônibus como os de Nairóbi. Digamos que cada um tem sua personalidade. Na lataria, grafites que vão desde Beyoncé e vários rappers a Scooby Doo, Jackie-Chan, Os Vingadores. Do lado de dentro, um universo paralelo. Ou seja, você nunca sabe o que vai encontrar assim que subir. Pode ter poltronas de couro vermelhas com luzes neon verdes ou assentos de pelúcia rosas com globos de discoteca e um volante de oncinha. No entanto, sempre há uma TV, funcionando ou não. Se estiver ligada, conte com clipes divertidíssimas de músicas quenianas. Se estiver desligada, não se preocupe: as mesmas músicas estarão tocando em alto e bom som pelo sistema estéreo.

Foi em um desses ônibus que briguei com um queniano pro discriminar Kaman. Ela havia sentado em um assento e eu estava de pé a seu lado. Imediatamente, o moço na janela cobriu boca e nariz com a camisa e começou a gritar “Corona! Corona!!!”
Visivelmente incomodada, ela lançou um olhar torto e respondeu que não tinha corona. Já eu, taurininha parça que só, não me contive: “yeah, we have Corona!” e comecei a fingir espirros em cima dele, que se levantou e saiu correndo do ônibus. Deu tempo de gritar um “asshole!” e ouvir os outros passageiros rindo. Um deles se aproximou de nós e pediu desculpas pelo comportamento dele, que provavelmente só queria uma desculpa para desembarcar sem pagar a passagem.
Nossa última experiência juntos foi em Kibera, a maior favela da África. Pegamos um matatu, ônibus local, e descemos meia hora depois em uma rua apinhada de gente e barracas vendendo uma sorte de bugigangas usadas: cabos para TV e celulares, panelas, luzes neon e de natal, roupas, tênis, sapatos sociais, vegetais e legumes e brinquedos. Por onde passávamos os olhos arregalavam para Kaman e suas feições asiáticas. “Corona!”




Era fim de tarde e, enquanto Cecília nos guiava para dentro, as ruas lotavam-se de estudantes em seus uniformes verdes – uma escola pública local havia encerrado as aulas do dia. Gritaria e risadas mesclavam-se com os chamados dos vendedores que ativávamos ao passar em frente às barracas.




Chegamos ao monotrilho que cruza Kibera. O trem havia acabado de passar, então entramos no fluxo de gente que invadia e marchava sobre as tábuas de madeira. As laterais eram totalmente ocupadas por um matagal de capim e barracões de madeira envelhecida e tetos de telha metálica que ora funcionavam como comércio, barbearia, hotel ou moradia. Crianças paravam para nos observar e algumas riam quando eu as cumprimentava com um “mambo!” para quebrar o gelo – pairava no ar um estranhamento com a nossa presença ali. Nós e nossos privilégios destoávamos. Não pertencíamos.





Então chegamos no ponto final de Cecília: um vão à direita que dava visão a Kibera em toda sua magnitude. Morros até o horizonte cobertos por uma cidade infinita de barracas 3×4 que começavam a acender suas lâmpadas. As ruelas conectavam entre si como veias e, apesar do fluxo de pessoas e galinhas, muitas coagulavam-se com pilhas de lixo – plásticos, embalagens de bolachas, garrafas de refrigerante e cerveja, restos de comida, retalhos de roupas e chinelos perdidos saltavam aos olhos. Kibera era um ser pulsante e sem Estado que transpirava como podia.

Logo abaixo, percebi um garoto jogando um saquinho plástico carregado na rua. Cecília explicou: não havia uma rede de saneamento básico, então as pessoas faziam suas necessidades em buracos na terra ou em sacos que depois abandonavam do lado de fora das casas da mesma forma como faziam com o lixo.
No caminho de volta, paralisei ao me deparar com duas pequenas brincando descalças ao lado do trilho, com um pai vigilante em sua cadeira de plástico na entrada de um barracão sem porta. Uma delas tinha Síndrome de Down e, assim que me viu, sorriu e esticou a mãozinha suja da terra que revirava. Peguei-a e andamos de mãos dadas por alguns metros. Foi a única pessoa que me fez esquecer por um segundo do abismo que me separava de Kibera.
*
Nesse meio tempo, tinha me inscrito no Workaway e enviado uma solicitação para um projeto chamado Hope Designers. Navegando pelas possíveis vagas, encontrei essa que falava sobre voluntariar com mulheres soropositivas pra HIV e me inscrevi na plataforma só por causa dela. Mas não tive resposta e confesso que estava doida para ir à Etiópia logo – então decidi que passaria uma semana no litoral e partiria. Pesquisando no Couchsurfing encontrei Shekhar, que tinha um lugar em Mombasa. Acabei descobrindo que Amin e Kaman tinham passado um mês na cidade e virado muito amigos do indiano – inclusive, me informaram que ele estava em Nairóbi, não na praia, e que em alguns dias iria pra Índia. Chegamos a sair todos juntos em uma noite e foi assim que o conheci pessoalmente mas, ironicamente, já tinha mudado de planos: o Hope Designers tinha aprovado minha solicitação.
Então a vida meio que decidiu por mim: iria pra Kisumu.
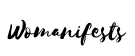



Deixe seu comentário