Depois de entregar as máquinas de costura e me despedir das meninas, voltamos à casa de Raphine e ele ligou a TV imediatamente. Eu colocava o celular para carregar quando ouvi o noticiário ao fundo transmitindo o anúncio do presidente: haviam encontrado um quarto caso positivo para COVID-19.
“Saia daí o quanto antes.” A frase brotou na minha mente junto com um misto de agonia e a sensação de que as saídas estavam se esgotando, como paredes fechando à minha volta. O Quênia não estava tratando a pandemia como uma gripezinha – desde muito antes do país ser infectado o governo já estava discutindo estratégias de combate e, a cada novo caso, mais medidas restritivas eram comunicadas pela televisão e por mensagens de celular.

A hostilidade com estrangeiros nas ruas de Kisumu começava a me incomodar e caiu a ficha de que logo poderiam cortar o transporte entre as cidades. Eu definitivamente não queria ficar presa ali, mas algo mais me dava aquela agonia e hoje eu sei que foi minha intuição.
Alguns dias antes, havia perdido o sono porque também se tornou lógico que a rede de hospedagens se fecharia para qualquer novo viajante que batesse em suas portas – que Couchsurfing, AirBnb, hostel ou voluntariado iria me receber àquela altura? Por sorte, Shekhar, amigo indiano que havia feito na primeira semana em Nairóbi, soube da minha situação e ofereceu seu apartamento em Mombasa. Ele mesmo estava em lockdown na Índia, mas disse que eu poderia ficar pelo tempo necessário – só teria que avisá-lo quando fosse. “Você tem que sair daí”, a voz continuou. É… o momento tinha chegado.
Eram 19h40 quando entrei na internet para buscar passagens de ônibus pra Nairóbi.
Duas companhias tinham lugares para viajar ainda naquela noite. Os sites davam pau toda hora e, cada vez que atualizava, o ônibus que eu estava visualizando se tornava esgotado. Raphine me ajudava ligando na companhia mais barata, que nos dizia que ainda havia lugar e que retornaria a ligação. Esperamos cerca de 15 minutos e nada. Então ouvi Razzak, o guia do Kilimanjaro, falando na minha mente: “o tempo não é nosso amigo, Marina!” Comprei a passagem mais cara – era o último assento disponível do último ônibus de toda a frota. Também reservei uma passagem de trem de Nairóbi para Mombasa, que partiria no dia seguinte às 14h. Como o ônibus chegaria de madrugada, daria tempo de fazer a ponte.
Todo o processo demorou muito e, às 21h, corri para juntar minhas coisas, arrumar o mochilão e tomar um último banho. Subi na garupa do mototaxi faltando 10 minutos para o horário de partida do ônibus. Meu coração tamborilava como se houvesse uma marcha inteira dentro de mim e comecei a rezar – eu realmente sentia que se não saísse dali a tempo, algo ruim iria me acontecer.
Alívio: cheguei no terminal e o ônibus ainda nem havia chegado. Sentia vontade de chorar pela adrenalina, pelo medo, pela angústia. Foi então que lembrei de Rachel. No dia anterior, ela tinha conseguido atravessar a fronteira de Uganda para o Quênia e estava em Kisumu. Disse que estava com medo de o governo queniano cortar o transporte entre as cidades e que iria o quanto antes pra praia, em Mombasa. Combinamos que ela me encontraria pra entrega das máquinas e depois seguiríamos juntas, mas não apareceu o dia todo. Na correria, não tinha conseguido escrever perguntando o que havia acontecido e avisando que eu já estava saindo da cidade. Me senti mal por me adiantar e ir sem ela, mas meu coração me pediu com tanta aflição que nem pensei em nada. Entrei no ônibus e dormi.
Acordei com um cutucão: “This is Nairobi.” Olhei na tela do celular. Eram 4h30. Saí do ônibus toda amassada, peguei o mochilão e, meio atordoada, sentei em um banco pra pensar no que fazer. Um homem que descarregava materiais à minha frente me disse que ao lado tinha um espaço de espera da companhia de ônibus para sentar. Fiquei surpresa quando passei pela porta e vi um galpão imenso com centenas de poltronas de ônibus enfileiradas em duplas – bem melhor que um banquinho de madeira…
Estava ressabiada. Coloquei o capuz e sentei no fundo, tentando me tornar o mais invisível possível. Enrolei a alça do mochilão no meu braço, a da sacola de comidas na perna e a mochila de ataque nas minhas mãos. Entre uma cochilada e outra, vi que estava perto do centro, onde havia cafés que deveriam ter wi-fi. Quando o relógio bateu 7h30, comecei a caminhada.
Pra variar, me perdi mesmo com o mapa em mãos, mas eventualmente encontrei um café sossegado. Rachel havia me escrito. Disse que tinha dormido o dia todo com febre, mas que tinha acordado melhor e que ficaria mais uns dias em Kisumu e depois me encontraria em Mombasa.

Almocei uma última vez no Moody’s, meu restaurante preferido em Nairóbi, e negociei com um boda-boda para me levar ao terminal do trem. A caminho de Mombasa, consegui desbloquear o cartão de crédito. Olhando aliviada pela janela, vi alguns pontinhos marrons com abas enormes nas laterais. Era uma família de elefantes – não havia os visto no safári e havia ficado desapontada… mas vê-los ali, com um arco-íris e baobás ao fundo, .
Já era noite quando cheguei no complexo de apartamentos em frente ao mar de Mombasa. Para subir, deveria esperar por Mensa, a cuidadora da casa de Shekhar. Quando ela chegou, de vestido longo e lenço cobrindo a cabeça e o colo, nos abraçamos. Corpo e mente estavam tão exaustos com a maratona desde Kisumu que, antes de capotar na cama, só deu tempo de agradecer ao universo por agora ter um quarto e um banheiro só meus – mochileiros entenderão.
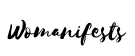



[…] (a.k.a. caverna) que me abrigou nos três primeiros meses de pandemia. Doeu fazer a despedida desse lugar que foi oferecido como um bote salva-vidas e que me acolheu em meio a tanta angústia pandêmi…porque eu entendi que minha hora de partir também estava chegando – o início do fim do ciclo no […]