Me despedi de Kk e de Ov. Viajar com eles, ser “apadrinhada” e começar a ser explorada financeiramente no momento em que me separo deles me faz sentir vulnerável – as inseguranças de viajar sozinha como mulher… Me cobraram 500 meticais pelo barco de Inhambane pra Maxixe quando era 15 (+20 do mochilão) e 800 pela chapa pra Vilanculos quando o valor certo era 280. Sorte que em ambos os casos procurei um local pra perguntar qual era o preço e, além de descobrir a verdade, consegui pagar o justo.
Pelos países africanos que passei até agora, foi preciso negociar sempre – a menos que seja um supermercado ou loja com preços em etiquetas, rola o “cara crachá” pra qualquer produto ou serviço. Claro, é uma questão polêmica porque, ao mesmo tempo, é uma prática de turismo sustentável – se é um dinheiro que não lhe faria tanta falta mas que poderia fazer toda a diferença para a pessoa de quem você está comprando (principalmente se for um local/produtor pequeno), pague. Mas se estiver viajando com low budget ou perceber que existe alguma má fé no valor cobrado, basta dizer que você não quer o “muzungo price” e jogar pra metade. Se o vendedor não quiser fazer o valor justo, vá embora.
No meu caso, o abismo entre o preço real e o quanto aqueles homens estavam me cobrando era exploração na cara dura e o episódio mexeu comigo. Estava tão acostumada aos meninos que tinha esquecido que estava viajando sozinha – e de repente me senti exposta a homens que queriam me enganar. Tive longas 6h pra pensar nesse jogo de vulnerabilidade enquanto olhava pela janela tentando equilibrar o corpo em cima de uma nádega – como toda chapa que se preze, enfiaram seis pessoas na fileira em que cabiam quatro.

Vilanculos foi uma boa pausa na bateria de festas do Tofo. Um era o completo contrário do outro, sendo o primeiro uma vila de pescadores tranquila. Matabicho havia me indicado um amigo, o Mito, que poderia me abrigar num esquema de Couchsurfing por alguns dias e foi assim que conheci Mírzia, sua filha de 11 anos que logo viraria minha parça. Passei a semana caminhando pela praia praticamente deserta, tomada pelo humor oscilante da maré que ia e vinha – mas que trazia sempre uma água cristalina e morna.

Uma semana depois, tive a viagem de ônibus mais peculiar da minha vida: foram 11h de Vilanculos rumo a Maputo e 11h de música moçambicana tocando nonstop no último volume… começando às 5h, horário de partida. Mas não só: fui o caminho inteiro não sabendo se eram as poltronas, as cortinas ou, ainda, se aquele cheiro de peixe insuportável vinha de alguma carga no porão do ônibus. Em qualquer um dos casos, não consegui imaginar como foi a circunstância de transporte.

O que eu consegui fazer foi ler um ebook inteirinho que estava criando teia desde o ano anterior – tinha comprado no Brasil, quando ainda nem sonhava que o mochilão de volta ao mundo ia se concretizar. Devorei O Alegre Canto da Perdiz, de Paulina Chiziane, e me surpreendi com a coincidência: logo nas primeiras páginas encontrei inúmeras referências a Moçambique – não fazia ideia que era uma história do país que eu estava visitando no momento. Começando pela capulana, tecido tradicional usado pelas mulheres locais como um símbolo de respeito e tradição, passando pela nomeação declarada das regiões em que a narrativa se desenrolava, como a Zambézia, província central do país.
Basicamente a história de Delfina, Maria das Dores e João dos Montes se trançam com a colonização portuguesa como plano de fundo. Não só a territorial – mas a tomada da cultura e do ventre das moçambicanas, o que levou à criação de uma nova nação. Temas como a branquitude e o feminino compõem o quadro de uma Moçambique em transformação.
Chegando em Maputo, peguei um tuktuk até Matabicho. Só pra recapitular: uma amiga que viajou a Moçambique tinha me recomendado ficar em sua casa na slum de Polana Caniço, que ele havia transformado em guest house. O preço no Airbnb, no entanto, era astronômico pra mim, afinal, R$ 140 a diária é bastante pra qualquer mochileiro. Falei com ele quando estava em Cape Town tentando entender se eu precisava ou não de uma carta-convite pra aplicar ao visto e ele aparentementemente simpatizou com minha história e ideia de projeto – disse pra não me preocupar pois eu seria a convidada dele e poderia ficar lá. Além disso, também falou que me conectaria a mulheres moçambicanas pra que eu pudesse entrevistá-las: uma artista, uma escritora, uma feminista…
Então corta cena, cheguei – com exceção de outro amigo de Matabicho, a guest house estava vazia. Mal deixei o mochilão no quarto, ele me convidou a assistir um workshop de dança que faria ali perto.
Caminhamos pelas ruas de terra batida da favela – um labirinto formado pelas paredes de tijolos colados com argamassa cinza. A cada curva revelavam-se clareiras de cimento vazias de gente, mas cheias de buracos, gatos e pilhas de embalagens plásticas e restos de verduras. O sol de fim de tarde pintava tudo. Cruzamos duas avenidas, um galpão, uma eternidade de casas… e então comecei a ouvir as batidas. Tambores que me lembravam a bateria da faculdade, mas com um molejo a mais. Matabicho abriu caminho no muro de pessoas e adentrou pela porta escura. O segui, ajustando os olhos pra luz de dentro: corpos dançantes reagiam a cada bumbumzada com ondas e passos coreografados que se manifestavam por braços, pernas, espinhas dorsais. O ar quente e suado se misturava com aquela massa pulsante e eu sorri. Sem querer, tinha descoberto uma pérola latejando escondida em um galpão da favela.
Pausa. O som parou e só ficaram as respirações ofegantes. Uma voz feminina cortou o ar e, antes mesmo que pusesse os olhos na sua dona, sabia quem era: Lenna Bahule. Soltei uma risada – o universo é mesmo uma criança travessa.
Um pequeno flashback aqui: No meu primeiro dia no Tofo, acordei cedo e fui sozinha andar pela praia. Enquanto mergulhava, já me preparava pra sair quando vi uma menina entrando na água. Não sei porque fiquei – passou pela minha mente que poderia ser alguém que eu precisasse conversar. E era. Era Ana, uma das garotas portuguesas de cabelos esvoaçantes no ônibus infernal que tinha nos trazido ao Tofo.
Começamos a conversar, contei da minha viagem e ela logo falou que eu precisava falar com uma amiga sua – moçambicana, ela morava em São Paulo, mas estava no Tofo para o ano novo e tinha muito a falar sobre feminismo e as mulheres de sua terra. Seu nome era Lenna e ela era uma artista. Quando a vi cantar à noite no bar do Djonga, lacrimejei: tinha aquela voz familiar de mil almas e gerações juntas que só a ancestralidade consegue evocar – com outros sons que emanava da boca e das palmas e dedos, tocava em um lugar além do material, além dessa existência.
Nos encontramos várias vezes depois disso, mas no meio da festa e do ano novo a conversa sempre ficava pra depois – até que fui embora pra Vilanculos e Lenna virou minha única frustração no Tofo. Agora, por um acaso ou não, ela tinha se materializado em um workshop aleatório de dança. Ou melhor: eu tinha caído novamente de paraquedas em sua arte.
E o que estava acontecendo ali? Uma manifestação espontânea. Lenna esteve viajando esse tempo todo por Moçambique com Rubens, um dançarino e coreógrafo brasileiro que nos últimos anos tem feito pesquisas sobre danças e ancestralidades do continente africano. Como ferramenta de resistência em uma colonização que proibia religiões, a dança também passou a ser uma herança pra negritude e, por isso, o que Rubens consegue resgatar é aplicado em seus workshops paulistas na sua Com.Uns, muitas vezes voltados pra jovens da periferia, pra incentivar que essa galera continue ressignificado símbolos de sua orgiem e resistindo e criando com o corpo.

Foi nessas que ele e Lenna tiveram a ideia de organizar um projeto relâmpago pra repassar isso à galera de Polana Caniço: aulão de quinta-feira a sábado com apresentação na rua no domingo justamente pra convidar o público a ressignificar os símbolos da negritude e da dança com eles. Tive a honra de acompanhar tudo de perto, ver um a um se abrir e vibrar com mais força a cada ensaio. A luz no salão me fascinava enquanto eu fotografava tudo – já não sabia se vinha da janela ou dos corpos. E não, no final não consegui conversar com Lenna. O que estava em ação era maior no momento e o fato de ter sido articulado por ela já dizia muito sobre o poder de criação e inclusão do feminino que ela materializava.



No domingo de manhã, o grupo dançou no calçadão entre um shopping e o mar. À tarde, os corpos se multiplicaram no ritmo da favela e todo mundo que assistia entrou junto.



Testemunhei aquelas vidas ganhando força e movimento nas ruas de Maputo – porque segui os passos de dança que o universo ensina, juntando acordes de acasos, formando uma melodia mais antiga que qualquer ancestralidade… e que qualquer um pode ouvir se apenas se deixar levar.
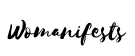



Deixe seu comentário